No Rastro da Trilha
A natureza morta foi, por um período crucial da história, considerada inferior aos grandes temas religiosos e políticos que eram desenvolvidos na pintura. Ainda que o gênero já estivesse presente na cultura visual dos egípcios, gregos e outras civilizações da antiguidade, foi na renascença tardia que ele reemerge com força – período em que diferentes estilos começaram a pipocar pela Europa: as vanitas na pintura holandesa, os bodegóns na pintura espanhola, a representação de flores na Inglaterra, entre outros. Essa rica tradição, porém, encontrou resistência a partir do final do século XVIII e início do XIX, quando as academias de arte acabaram classificando os gêneros de pintura em uma hierarquia arbitrária e rígida – a natureza morta foi relegada ao último posto da pirâmide. Acontece que, mesmo diante desse status desfavorecido, a arte moderna surgiu para rebelar-se contra as regras acadêmicas, e os impressionistas e pós-impressionistas (seguidos pelos cubistas, fauvistas e inúmeros outros istas) retomaram o gênero de maneira contundente.
Se, no contexto histórico, a natureza morta está intimamente associada ao suporte da pintura, Rodrigo Torres subverte o gênero para uma mídia inusitada: a cerâmica. A nova série apresentada em “A Trilha do Esquecido” deriva de um longo caminho de experimentos do artista com o material, testando seus limites e esgarçando suas possibilidades físicas. Mesmo que o trabalho com a argila e a porcelana demande uma aceitação da falta de controle total do resultado final – controle esse que seria muito maior usando tela e tinta –, Torres encara e incorpora as vicissitudes dos processos de moldagem, secagem, queima e esmaltação, celebrando os eventuais resultados inesperados. Mas não só isso: para o artista, não basta apenas dominar a materialidade, é preciso também incorrer em insurgências contra eventuais padrões do meio.
As cenas espalhadas por essa mostra foram criadas a partir do interesse de Torres por resquícios de construções e elementos humanos e da natureza encontrados em uma trilha na floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde ele vive e trabalha. Em caminhadas frequentes na mata, o piso da floresta revelava ora um cano de cerâmica, ora um azulejo quebrado ou um pedaço de tijolo – indícios de ocupação anterior em uma área hoje tomada pelas árvores. Os arranjos artificiais montados sobre uma mesa, posando para a pintura de observação, foram substituídos por esses encontros fortuitos, enfim transformados pelo artista em cenas congeladas sobre painéis de azulejos. Sobre elas, assume um enquadramento que nos coloca no mesmo ponto de vista que ele tinha ao olhar para o chão da trilha. Ao mesmo tempo, ele desloca essa vista parcial e fragmentada para a parede, operando uma retomada da conhecida tradição pictórica, ao mesmo tempo que a modifica inteiramente.
Os painéis criados por Torres, assim, ocupam um lugar limiar, fronteiriço: seus volumes tridimensionais não se apoiam no chão, mas residem contra a parede; sua vista frontal volteia nossa percepção em uma mudança de ponto de vista direcionado ao chão; os elementos de cada peça parecem vivos, mas em suspensão animada; e os fragmentos orgânicos e inorgânicos representados são corporificados a partir de um mesmo material. O presente é denunciado pelos copos de plástico de “Refresco de cajú, banho de mangueira, casa de praia”; o passado colonial, nos azulejos cujos desenhos nos lembram a cerâmica Portuguesa em “Lagarta que queima, fogão a lenha, jardim de museu…”; e mesmo a modernidade é sugerida nas cores e formas abstratas de “Dia de Reis, sol do meio dia, Canoa quebrada”. É curioso, assim, perceber como essas ambiguidades nos convidam a olhar de novo, redescobrir as imagens do gênero da natureza morta em outro suporte, transpostas em instantes efêmeros. Na “Trilha do Esquecido”, o que importa não é representar flores, frutos, animais e objetos, mas sim encontrar pequenos vestígios e vislumbres de lugares e tempos que não existem.
Julia Lima
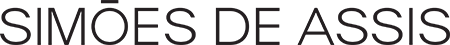






















.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

